A primeira parte é dividida em 4 capítulos:
1. Aquele em que uma mulher tira uma foto dela mesma, sozinha.
2. Aquele em que conhecemos três fotógrafas mortas que teriam amado o iPhone.
3. Aquele em que definimos selfies em oposição a “ussies” ou simplesmente “fotos que alguém tirou da sua cara”.
4. Aquele em que odiadores de selfies ameaçam grandes eventos esportivos, a mídia de massa e os adolescentes.


Tomada 1: começa com uma mulher tirando uma foto dela mesma, sozinha. Talvez ela esteja sentada em um café ao ar livre, o seu celular estendido na sua frente, como um espelho de mão dourado, um reflexo conectado a uma conta de Instagram. Talvez ela incline a cabeça para um lado e depois para o outro, sorrindo e gracejando, mexendo no cabelo, encarando desafiadoramente as lentes para depois desviar o olhar, recatada. Ela tira uma foto, depois 5, depois 25. Ela passa por essas imagens, apreciando-as, uma editora separando a coleção de setembro da própria cara; ela compara cada foto com as outras, brinca com os filtros e com a iluminação, faz a escolha final, clica em “enviar” e está feito. A sua selfie está solta para ter as próprias aventuras, sozinha, para encontrar os olhares de estranhos que a própria mulher nunca vai conhecer. Ela se sente animada, talvez um pouco nervosa. Ela acabou de declarar, com apenas alguns cliques, que merece, naquele momento, ser vista. Todo o processo leva menos de cinco minutos.
* * *
Tomada 2: zoom em um grupo de pessoas observando essa mulher. Eles estão rindo dela, rolando os olhos, cochichando. Talvez eles sejam mais velhos do que ela, fazendo piadas sobre Narciso e sobre o fim da civilização como a conhecemos. Talvez todos eles sejam homens, profundamente afrontados pela imagem de uma mulher olhando para si mesma com desejo, uma mulher que é, ao mesmo tempo, quem vê e quem é vista. A mensageira e a própria mensagem. Talvez seja um grupo de mulheres tagarelas, que internalizaram uma vergonha social por caçoar da cara de alguém em público, que aprenderam a serem boazinhas, a nunca deixarem o seu amor próprio vir a ser uma ameaça. Talvez elas sejam solitárias, à procura de conexão, projetando a sua própria falta de comunidade no show particular daquela mulher, acreditando que ela seja solitária em vez de amigável. Elas não veem para onde aquela imagem foi, que espaço ela vai ocupar no infinito. Isso é assustador para elas, essa falta de controle, essa ideia de que a cara daquela mulher poderia ir para qualquer lugar, surgir em qualquer lugar. É por isso que essas pessoas zombam dela, como se ela estivesse se masturbando. É por isso que elas acreditam que nenhuma selfie jamais poderia significar outra coisa além de vaidade. É por isso que elas acham que selfies são uma fase, algo que elas podem desejar que não exista mais. Sejam quem forem essas pessoas, e qualquer se sejam os seus motivos para odiar selfies, elas estão erradas.
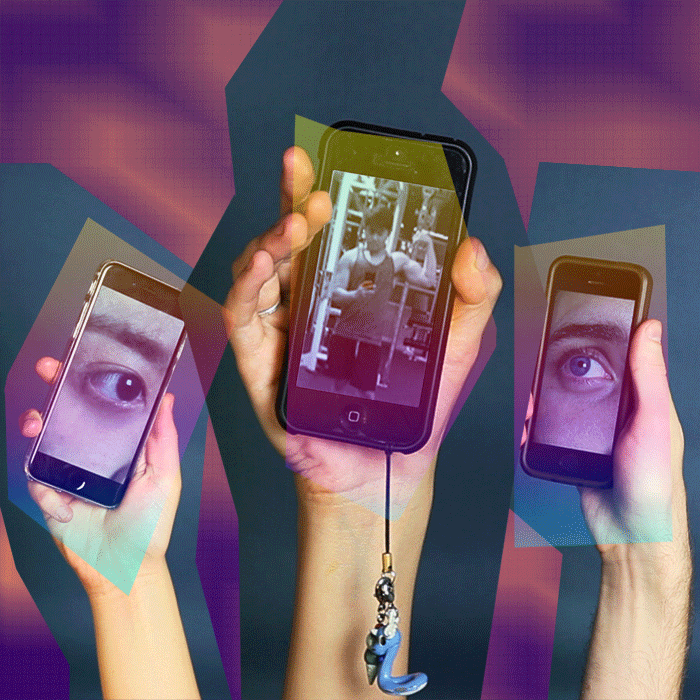

Sempre que penso em selfies, eu penso nas mulheres que vieram antes. Eu penso naquelas que nunca puderam usar câmeras frontais, essa facilidade tecnológica excessiva que nós, tão rapidamente, subestimamos.
Eu penso em Julia Margaret Cameron, que ganhou de presente a sua primeira câmera em 1863, quando ela tinha 48 anos de idade. Foi um presente da sua filha, um brinquedo para amenizar a solidão da idade. A máquina deve ter parecido elétrica nas mãos dela. Veja, Julia não era uma nenhuma beldade. Nós sabemos disso graças à sua sobrinha-neta, Virginia Woolf, que escreveu que Julia era o patinho feio de uma família cheia de belezas; o seu apelido era “talentosa”, enquanto as suas irmãs eram chamadas de “lindas”. Cameron se tornou instantaneamente obcecada por fotografia e, assim, mergulhou no segundo ato da sua vida. Ela fez centenas de impressões em prata, praticando e praticando em uma espécie de sonho febril, até ter criado um método particular de aplicar um foco macio e orvalhado nos seus retratos de celebridades britânicas. Com as suas lentes, Cameron fazia todo mundo parecer leve, belo e etéreo. Ela patenteou a sua técnica, vendeu cópias para museus e escreveu uma prosa mítica sobre o seu processo em uma biografia:
“Eu desejava aprisionar toda a beleza que aparecesse na minha frente, e até que enfim esse desejo foi saciado.”

Julia tirou apenas algumas fotografias de si mesma, e nelas ela aparece muito menos imponente do que seus modelos, que, em geral eram homens intelectuais firmes e grisalhos, ou atrizes e debutantes com as bochechas coradas. Em seus autorretratos, ela aparece sombria, abatida, olhando para baixo ou para as lentes com um estrabismo murcho, como se ela não pudesse acreditar que estivesse fazendo aquilo. Seus autorretratos contém suspiros. Câmeras antigas demandavam longos tempos de exposição, que exigiam que o fotografado mantivesse a mesma expressão para sempre. Eu não sei porque Julia escolheu o olhar furioso, mas se eu tivesse que adivinhar, eu diria que ela sabia que seria capaz de segurar essa expressão por uma hora inteira. Ela estava acostumada. O tipo de câmera que Julia usava não era feito para experimentalismos; cada foto era um grande compromisso. Hoje nós não estamos limitados por esse tipo de restrição, temos a habilidade de inundar nossos feeds com risinhos, beijinhos para o ar, piscadinhas bobas e olhares atraentes.
A partir do momento em que é possível tirar infinitas fotos de infinitos ângulos, nós começamos a descobrir novas dimensões de nós mesmos, dimensões que nós nem sabíamos que existissem. Aquela menina no parque, tirando selfie depois de selfie? Ela está investigando a sua própria silhueta. Ela está descobrindo quais são as partes do seu rosto que ela ama; ela está analisando a sua autoconfiança. Às vezes são necessárias centenas de selfies até capturarmos aquela na qual nos reconhecemos de verdade: essa, essa sou eu. Julia não tinha a habilidade para focar nela mesma até que ela sentisse que conseguiria sorrir. Mas nós temos.
* * *
Eu penso em Marian Hooper Adams, que atendia por Clover. A maior especialista da sociedade pós-guerra civil, Clover e o seu marido, o escritor Henry Adams, vivam em frente à Casa Branca, em um antigo sobrado onde ela bancava a anfitriã para intelectuais e diplomatas quando eles visitavam a cidade. Na sala de estar deles, Henry era o rei, enquanto Clover era a esposa subserviente, como era esperado das mulheres da época. Não importava que ela fosse extremamente culta, a filha de um médico proeminente e uma poetisa transcendental. Era esperado que ela ficasse quieta e anulasse a si mesma, uma mulher sorridente segurando uma bandeja de prata polida.

Mas no andar de cima, no seu quartinho, ela lidava com prata coloidal, e lá Clover era a rainha do seu domínio. Ela começou a fotografar como um hobby em 1883 (Henry jamais permitiria que ela se tornasse profissional), colecionando fotos da sua família, dos seus amigos e dos políticos que passavam pela sua casa, aqueles com os quais ela não deveria conversar. Em vez disso, ela usava as fotografias para se comunicar, para assimilar o ambiente ao seu redor, para falar sobre o seu isolamento. Ela escrevia notas extremamente técnicas sobre o seu trabalho; e o seu passatempo se tornou a sua vocação. Ela fez um retrato devastador dos seus sogros, que mal falavam com ela, as suas carrancas mal disfarçavam o desdém rabugento que sentiam. Sempre que fotografava a si mesma, ela cobria o rosto com um chapéu gigante ou algum outro acessório; às vezes, ela era apenas uma mancha borrada passando pelo quadro. Eu acho que mesmo nesses momentos de comunicação silenciosa com a câmera, Clover tentava lutar com o quão invisível ela era, com o quão pouco ela sentia que merecia se mostrar. Para uma socialite, ela não tinha realmente uma vida social própria. Ela não tinha ninguém com quem compartilhar o seu rosto, e então ela o mantinha guardado, como um segredo.
Um dia, 2 anos depois de começar a fotografar, Clover se matou na frente da lareira do quarto. Ela tinha apenas 42 anos. Ela engoliu cianeto de potássio, um dos químicos que usava para revelar as suas fotos.
Depois da morte de Clover, Henry destruiria todas as cartas dela e a apagaria completamente da sua autobiografia; ele quase conseguiu fazê-la desaparecer. Mas, de alguma forma, as fotografias sobreviveram. Se eu pudesse voltar no tempo e subir até o seu estúdio, eu diria para ela mostrar o seu rosto.
Se alguma vez você sentir medo de fotografar o seu próprio rosto e jogá-lo no seu feed, eu insisto: não foque na sua ansiedade, foque em todas as Clovers, em todas as mulheres que sentiram o calor de uma câmera nas suas mãos mas não compartilharam com o mundo, naquelas que acabaram sozinhas, em silêncio, sem a chance de se conectar com alguém.
* * *
Eu penso em Francesca Woodman; a doce e amaldiçoada Francesca, a filha de dois artistas boêmios, uma loira lamuriosa que passava os verões na Itália e que aprendeu a tirar fotos dela mesma em uma antiga casa de campo. Ela começou a brincar com uma câmera quando ela tinha 14 anos, em 1972, se comprometendo completamente com o seu trabalho quando foi estudar design na RISD, 3 anos depois. Ela enviou as suas fotos para grifes e revistas, mas não conseguiu realmente ganhar muita aceitação; se inscreveu em bolsas de estudo e residências artísticas, recebendo respostas variadas. Francesca estava com tanta pressa para fazer sucesso que qualquer atraso no processo parecia um insulto imenso. A sua depressão se desenrolava como uma névoa inabalável. Ela tentou se matar uma vez, depois outra, e, em 1981, quando tinha apenas 22 anos, ela conseguiu, pulando da janela de um prédio no East Side de Manhattan.
O que fez Francesca ser diferente de Clover — além de uma centena de anos — foi que ela ativamente colocou a sua própria cara e nudez no seu trabalho, ela produziu cerca de 10 mil negativos exigindo ser vista por alguém, por qualquer pessoa. Olhar para o seu trabalho é olhar para alguém descobrindo e depois se deliciando com o próprio corpo. Até onde ela conseguiria ir, o quão esquisita ela conseguiria se tornar, sozinha em um quarto com um rolo de filme. De vez em quando, Francesca fotografava a si mesma se afogando em um rio, como um rato molhado, ou gritando ou segurando uma faca afiada enquanto apontava um seio nu para a câmera. Às vezes ela se mostrava desfigurada por roupas apertadas, às vezes ela pulava ao redor com vestidos folgados explorando o espaço de um quarto gigante e vazio. Ela brincava com o tempo de exposição — no fim da vida, ela estava testando exposições tão lentas que tinha que permanecer sentada na frente da câmera por horas —, ela estava interessada em ver o seu corpo como um recipiente tanto para a vida quanto para a podridão, como algo energicamente aqui e repentinamente não mais. Ela, às vezes, se referia ao seu trabalho como “fotografias de um fantasma”.

Já que o seu trabalho ficou popular – com um documentário, um livro e uma exposição com releitura feminista – muitos foram rápidos ao avaliá-la sob a perspectiva da sua morte, disseram que ela estava tentando ativamente anular a si mesma ao isolar partes do seu corpo em enquadramentos, que seus autorretratos eram memento mori cheios de raiva. Esse é um erro comum: aqueles que conheceram Francesca a descreveram como uma pessoa extremamente ambiciosa; ela escrevia seus diários na terceira pessoa, ela se via de fora, como alguém destinada à grandeza. Ela estava fazendo aquilo que faz as mulheres serem temidas: ela estava tentando fazer arte que importasse.
Considere isso: talvez uma mulher — na verdade qualquer pessoa — que tire e publique muitas fotos dela mesma seja simplesmente ambiciosa. Ela quer que os outros reconheçam a sua habilidade de produzir imagens, a sua audácia estética, a sua coragem por entrar no enquadramento e clicar “enviar”. Quando você fala para uma pessoa que ela enviou muitas imagens dela mesma para o seu feed, quando você a envergonha alegando narcisismo e egoísmo, quando você fala que ela está ocupando muito espaço (espaço, esse, que é basicamente infinito, exceto por alguns limites inventados): você precisa questionar os seus motivos. Será que você está com medo da ambição de uma pessoa querer ser vista? De onde vem esse medo?
Se você não conseguir aproveitar nada mais desse desvio histórico, pelo menos lembre-se disso: essas mulheres não tiveram a possibilidade de tirar e postar as suas fotos para milhares de pessoas por vez. E ainda assim elas tinham sorte, elas tinham câmeras. Muitas histórias de muitas mulheres foram apagadas (e nunca serão recuperadas) porque elas não tiveram acesso privado à produção de imagens. Virginia Woolf sabia disso: “[A história da maioria das mulheres é] escondida, vezes pelo silêncio, vezes por floreios e ornamentos, que são equivalentes ao silêncio.” O mesmo poderia ser dito não apenas a respeito das mulheres mas de qualquer pessoa vivendo nas margens raciais, de gênero ou das classes socioeconômicas. Humanos que desejam ser vistos e apreciados têm existido há séculos, mas apenas alguns têm o poder tecnológico (e os canais de distribuição) para ter controle. Selfies são apenas uma forma de recuperar o tempo perdido, e toda aquela ânsia e desejo que nunca tivemos a oportunidade de ver porque as pessoas sem poder não tinham as suas próprias câmeras e equipamentos de impressão. Grupos de pessoas que nunca antes puderam ser vistos estão sendo vistos e estão criando comunidades inteiras ao redor dessa visibilidade, e essas comunidades estão se tornando cada vez mais fortes.


Sel.fie: /ˈselfē/
Substantivo Feminino (informal)
Uma fotografia que alguém tirou de si mesmo, normalmente usando um smartphone ou webcam, e compartilhada via mídias sociais.
Preciso voltar um pouco. Isso deve ser dito: nós estamos vivendo em uma época que é o pico das selfies, então o ódio por selfies também está no seu pico. Quando um fenômeno vaza tanto e de forma tão rápida dentro da caixa d’água cultural, as pessoas estão destinadas a perderem a linha. É claro que homens e mulheres têm tirado fotos de si mesmos por anos, e eles pintavam a si mesmos antes disso e entalhavam as suas caras em pedras antes disso. Mas a selfie, uma foto de si mesmo com um componente social imediato agregado ao processo, isso é algo muito novo.
Selfies devem ser compartilhadas — ou pelo menos serem feitas como parte de uma série com a intenção de compartilhar pelo menos uma — para serem consideradas selfies. É com essa definição que vou trabalhar (e, para puristas, essa também é a definição listada nos dicionários Oxford) não existem exceções. Se você tira uma foto de si mesmo sem a intenção de postar ou compartilhar essa foto, isso não é uma selfie. Se você permite que outra pessoa tire uma foto sua, e depois posta no Instagram, isso não é uma selfie (ainda é uma forma valiosa de criação de mito por meio da imagem, mas com a desqualificadora intervenção de um intruso). Se você tira uma foto sua com outra pessoa e a compartilha, isso é chamado de “ussie” e tecnicamente conta, mas em geral é recebida com menos desprezo do que um esforço solo. Eu estou interessada na selfie que é inteiramente autônoma, aquela em que uma única pessoa é o tema, a fotógrafa, a editora e quem publica. Participar do diálogo das selfies é um processo de duas partes: o privado e depois o público, a concepção e depois o lançamento, e esses processos funcionam em um tipo de gangorra elétrica.
O ódio que acompanha as selfies pode ser rastreado até o próprio dicionário Oxford, quando ele tentou mostrar alguma relevância com aquele velho método de trollagem digital que é a seleção da “palavra do ano”. Em 2013, “selfie” foi escolhida em uma decisão que foi divulgada como unânime “com pouca, se alguma argumentação”, uma “vencedora incontestável”. Quem quer que tenha escrito a nota, exibiu uma contenção elegante: seguiu a origem da palavra (a lenda conta que ela surgiu em um web fórum australiano em 2003), o rápido aparecimento do seu uso na mídia convencional (aumento de 17.000% em um único ano) e uma possível explicação para o sufixo (“pode-se dizer que o uso do sufixo -ie ajuda a transformar algo essencialmente narcisístico em algo um pouco mais cativante”). Existem pequenas pontadas de narcisismo, mas a descrição está mais preocupada com a etimologia. Dicionários nunca são fontes puras: o que faz parte e o que não faz é reflexo de uma ideologia bem específica. Mas, nesse caso, o Oxford tentou explicar a sua decisão como sendo meramente um reflexo de uma força cultural inegável.
Outras fontes não foram tão generosas nas suas respostas à decisão de Oxford. Observe o que CNN escreveu:
“O guardião mais estimado da língua inglesa acaba de conceder honra e prestígio para o que é possivelmente o fenômeno mais vergonhoso da era digital: a selfie. Então, pegue o seu smartphone, faça o seu melhor biquinho e celebre.”
Esse pequeno comentário serviu de modelo para quase todos os ridicularizadores da cultura da selfie, para milhares de outros artigos de opinião, comentários de Facebook, frases precipitadas e retweets maliciosos. Então vamos analisá-lo:
1. Em primeiro lugar, o tom de policiamento: o ultraje sarcástico que seria uma fortaleza “superior” de palavras como Oxford ter se dignado a celebrar uma palavra que se aplica a uma prática que está surgindo principalmente entre jovens. Que uma instituição tão venerável acabara de validar uma tendência estética que não pode ser regulada por supervisores, mas, no lugar disso, floresce por conta própria em canais culturais “pouco respeitados”, como Snapchat, Instagram e Twitter.
2. A palavra “vergonhoso” como um superlativo, como se os verdadeiros horrores da era digital — cyberbullying, GamerGate, roubo de identidade, pornografia infantil, barões da tecnologia com a pretensão de sacudir o mundo mas que na verdade estão enriquecendo às custas de práticas trabalhistas suspeitas — fossem todos problemas menores se comparados a uma única menina adolescente apontando a câmera para o seu próprio rosto com a intenção de compartilhá-lo com os seus amigos.
3. O rosnado sarcástico para “biquinho”, uma maneira de posar para uma selfie que envolve empurrar os lábios para fora, e é, portanto, lida como hiperfeminina, e graças a uma associação misógina, trivial e inútil. Desdém aos biquinhos são sempre dirigidos, ainda que indiretamente, a ridicularizar a pessoa que tornou a prática popular: Kim Kardashian. Acontece que Kardashian é a mulher mais vista do mundo atualmente, uma Vênus moderna dando o seu corpo para as massas para consumo e desconstrução, uma aula de história da arte destilada em um único corpo exagerado, quase biônico, o santo padroeiro das selfies e o símbolo do movimento antisselfie, tão em controle da produção da própria imagem que ela escreveu (ou melhor, estrelou) um livro de mesa chamado Selfish. Mas claro, CNN, vá em frente e transforme essa poderosa iconografia em uma piadinha. (Para aqueles interessados: eu passei muito tempo refinando meus pensamentos sobre Kim Kardashian e o seu inegável poder neste mundo. Você pode ler tudo aqui.)
@officialmackzmusic Pirando porque
acaber de conhecer a Kim Kardashian !!!! TE AMOOO 🎀🎀.
@kimkardashian literalmente chorando 😢😍
As políticas de selfie são políticas de atenção: é tudo sobre quem consegue ser visto, quem consegue ocupar o campo visual. Críticos sempre falam que Kim e a sua família ocupam muito espaço, como se entupissem nossos gravadores de vídeo, nossos feeds do Twitter, nossas bancas de jornal. Em um nível micro, a ira dirigida à Kim é destinada a todos aqueles que fazem selfies: quem você pensa que é e por que você acha que eu deveria acompanhar a sua vida? Eles não percebem que, ao se perguntarem isso, eles estão atestando a sua própria ignorância. Ninguém deveria perguntar por que certa pessoa é digna de ser vista. Cada pessoa ganha um corpo e uma cara e depois passa o resto da sua vida tentando se sentir em casa ali dentro. Dignidade é parte do pacote básico.


Ninguém posta uma foto em uma mídia social sem imaginar os comentários maldosos que ela vai receber, seja por meio de comentários diretos ou de aversão indireta de um círculo mais amplo. E ainda assim o número de selfies continua explodindo, se reproduzindo exponencialmente, preenchendo servidores, planos de dados e filmes fotográficos. Não é só questão de quando uma torneira cultural é aberta, ela não pode nunca mais ser fechada. É que todo mundo que posta uma selfie deve estar recebendo algo em troca, algo tão fortalecedor que faz a rejeição ser suportável.
Consideremos essa recente notícia viral, um texto cultural inovador de ridicularização da selfie.
Durante um jogo de beisebol do Colorado Rockies, em setembro, um par de locutores homens focou em um grupo de amigas de 20 e poucos anos que estavam sentadas na arquibancada, um bando de meninas da fraternidade Alpha Chi Omega do estado do Arizona. Os locutores haviam acabado de pedir para que o público mandasse fotos para uma competição, mas imediatamente começou a analisar as mulheres por aceitarem o desafio. As câmeras pairaram sobre as mulheres por pelo menos 1 minuto, que pareceu 1 minuto longo e predatório. Os locutores zombaram das mulheres com piadas de tiozão: “cada uma das mulheres da plateia está olhando para o seu celular”, “essas são as melhores 300 fotos que fiz de mim hoje”, “bem-vindo à criação dos filhos em 2015”, “espere, eu tenho que tirar uma selfie com um cachorro-quente, com um churros, com uma selfie de uma selfie.” Essas alfinetadas pareceram ter 1.000 anos de idade.
O discurso dos locutores se tornou um para-raios para as pessoas de ambos os lados do debate das selfies. Haters vomitaram os clássicos insultos antisselfies: millennials são narcisistas (aliás, não importa a sua idade, quando você faz uma selfie você é sempre, sempre um millennial), eles não se importam com nada além deles mesmos e estão acabando com os bons e velhos passatempos americanos, com os seus smartphones e a sua insaciável sede por likes.

Mas aqueles do outro lado do debate viram algo muito mais tóxico escondido nessa aversão a selfies, algo ligado ao debate sexista, feio e assustador. O incidente no jogo de beisebol provou, publicamente, que selfies não são apenas irritantes para pessoas em posições de poder, mas claramente perigosas.
Olhe por esse ângulo: os homens no comando lá no jogo, aqueles sentados dentro de uma caixa de vidro, acima do estágio, eles têm acesso a uma câmera no céu. Essa câmera é capaz de focar em quem quiser e demorar o quanto quiser. O telão espia tudo lascivamente, um olho fálico que tudo vê e que ignora completamente as mulheres, até que decide devorá-las com os olhos. Quando essas mulheres preferiram se divertirem sozinhas, rir e conversar com as suas amigas em vez de prestarem atenção no esporte que estava acontecendo na sua frente — um esporte que, aliás, exclui as mulheres de campo e que nunca vai parecer muito inclusivo —, elas foram vistas como se estivessem cometendo um ato transgressor. Elas eram incentivadas a assistir homens batendo numa bolinha com um pau por tanto tempo quanto fosse necessário, mas adicione um pau de selfie na mistura e as pessoas perdem a cabeça.
O horror dos narradores por aquele simples ato, por um grupo de mulheres olhando para si mesmas e não para os homens no campo, continua a enganação que os homens têm empurrado goela abaixo das mulheres há eras: fingir que elas são madonas até o momento em que for conveniente chamá-las de putas. Essas mulheres eram dignas de serem olhadas enquanto fosse conveniente aos homens no poder, mas quando ficou claro que o amor que sentiam umas pelas outras vencera o amor pelo jogo, os homens com microfones começaram a cair em pedaços. Eles fizeram o que qualquer jogador faz quando o seu time está perdendo: eles bateram o pé e se enfureceram. E toda essa raiva soou um pouco como um último suspiro.
A maneira como esses homens avacalhavam selfies os coloca no lado errado da história. Porque eles não percebem que um jogo igualmente importante está acontecendo agora mesmo, na web. Selfies estão se tornando um esporte. Instagram é um lugar onde as pessoas podem se tornar figurinhas, podem ganhar e se tornar heróis. A cada selfie você constrói a sua legião de apoio, ganha estatísticas, posa para a sua própria capa de revista, e experiencia o entusiasmo de ter um time de cheerleaders torcendo por você. O motivo de Kim Kardashian para tirar selfies da sua bunda? “É divertido!” O jogo da selfie — posar, postar, interagir — é feito para ser divertido. Mas está levando aqueles que não sabem jogar à loucura.
* * *
É claro que os inimigos das selfies não são sempre homens; mulheres podem ridicularizar as selfies de outras mulheres com tamanha crueldade de meninas-más que fazem os comentários dos locutores parecerem saidos da segunda divisão. Às vezes eu clico de novo naquele artigo que a Vogue publicou no começo do ano passado sobre as perversidades de tirar selfies, e ele me faz rir. A autora chamou os paus de selfie de “a invenção mais constrangedora da nossa geração” e tinha toda uma cartilha de conduta para apresentar:
“Selfies somente são aceitáveis em algumas ocasiões: se você trabalha com moda e está mostrando um figurino ou uma parte específica do figurino para propósitos de trabalho, se você estiver em algum lugar incrível e não encontrar ninguém para te fotografar (por exemplo: um teleférico, o monte Kilimanjaro ou no tribunal com a Oprah). Qualquer selfie que envolva um ‘biquinho’ não é aceitável. Esse tipo de foto não é sexy. Você fica parecendo uma idiota.”
Essa mensagem, que parece ter sido escrita por uma espécie de Emily Post fascista, vem da Vogue, aquele modelo de “bom gosto” cuja equipe é principalmente composta de mulheres esguias e poderosas e que têm muito interesse em garantir que o capitalismo continue se perpetuando. É claro. É claro que a mídia das mulheres perfeitas quer que as outras mulheres se sintam como idiotas, que elas odeiem os seus biquinhos de beijo, que sintam que elas não têm o direito de postar imagens delas mesmas, a não ser que elas “trabalhem na indústria da moda” (ou trabalhem em lugares como a Vogue, de onde as pessoas vivem postando fotos delas mesmas nos seus cubículos). Esses padrões estreitos de quem pode e quem não pode postar selfies expõem os valores que atualmente mantém a maioria das revistas no mercado. O mundo das selfies, um lugar onde pessoas que não se encaixam nos estreitos padrões impostos pela indústria da moda, podem, apesar disso, dominar, é aterrorizante para aqueles que querem ditar as regras do consumo. Mas é exatamente por isso que você precisa continuar: tire as suas selfies e assista o circo pegar fogo.
Em 1973, a feminista e acadêmica britânica Sheila Rowbothan escreveu um livro denso chamado Female Consciousness, Man’s World (Consciência Feminina, Mundo dos Homens, em tradução livre) sobre formas com as quais as sociedades perpetuam a opressão. Ela estava escrevendo sobre selfies, mas não sabia. Uma dessas formas, ela escreveu, era desencorajar qualquer tipo de autorreprodução individual, e qualquer maneira de ver que não fosse regulada pela forma de poder vigente. Para subverter essa opressão, a pessoa precisaria aprender uma nova maneira de autorreprodução:
“Para criar uma alternativa, um grupo oprimido deve, de uma só vez, abalar o mundo autorreflexivo que está ao redor dele, ao mesmo tempo que projeta a sua própria imagem para a história. Para ser capaz de descobrir a sua identidade, como diferente da identidade do opressor, o indivíduo deve se tornar visível para si mesmo. Todos os grupos revolucionários criaram as suas próprias formas de olhar.”
O capitalismo, como Rowbothan apontou, adora se autorrefletir. Ele precisa perpetuar a si mesmo, e uma das ferramentas que usa para fazer isso é a imagem — a publicidade, por exemplo — que mantém as pessoas cobiçando, que faz as pessoas se sentirem incompletas enquanto não tiverem qualquer que seja a nova coisa brilhante que acabou de ser lançada. Aqueles no topo se beneficiam, é claro, por criarem essas imagens. É ruim, para a economia da cobiça, que exista pessoas se divertindo em fotos que elas mesmas fizeram; é difícil controlar consumidores que não precisam procurar a grande mídia para saber ao que dar valor, o que comprar, a quem honrar e proteger.
Selfies não são necessariamente atos políticos, mas essas imagens ressonantes, viciantes e desregulamentadas são mais uma manifestação da desconfiança crescente no mainstream e do desejo cada vez maior de muitos indivíduos de reivindicar as suas próprias narrativas, agora que eles têm o microfone virtual.
28,2K likes (via instagram.com/essenaoneill)24,5k likes (via instagram.com/essenaoneill)
Mas como selfies são tão difundidas (e atraentes ao olhar), a única solução para os anunciantes é se infiltrarem nas selfie-takers mais populares e as comprarem. Os deuses do capitalismo oferecem às estrelas adolescentes das mídias sociais milhares de dólares para que elas sejam outdoors ambulantes para os seus produtos; eles compram o seu trabalho e o seu tempo e chamam isso de empoderamento. E, para algumas, é empoderamento. O dinheiro chega, e a vida de algumas adolescentes muda para sempre. Se te oferecessem a oportunidade de viajar o mundo, receber um monte de coisas de graça e se tornar um ídolo instantâneo de milhares de estranhos, com o clique de um botão, você seria capaz, de, com apenas 18 anos, dizer “não”?
Em outubro de 2015, uma parte desse lado escuro veio a público. Uma estrela do Instagram, a australiana Essena O’Neill, de 18 anos, descobriu de uma vez só o seu privilégio e a maneira como ela estava sendo explorada, em uma única onda de cortar o coração (o tipo de revelação que tradicionalmente aparece para os adolescentes durante os primeiros seminários de filosofia da faculdade). Ela se deu conta que ser paga para posar com roupas e presentes e postar fotos perfeitas dela mesma usando biquínis não estava mais valendo a pena; ela estava passando fome de propósito, contando com likes para validar a sua autoestima, chorando até dormir, se sentindo moralmente e espiritualmente destruída. Então ela deletou 2.000 posts da sua conta de Instagram, e, nas fotos que sobraram, ela adicionou legendas para mostrar as diferenças entre o que era fantasia e o que era real. Ela contou o quanto ela era paga por cada foto, o quão pouco ela tinha comido no momento em que as luzes iluminavam o seu abdômen magrinho. Ela lançou um novo site para encorajar meninas a falarem sobre como elas se sentem de verdade no lugar de mascarar as suas emoções com fotos prontas do Pinterest, e o seu esforço viralizou. Do seu quarto, a loira com pele de pêssego iniciou uma conversa global sobre como cada selfie pode ser uma mentira disfarçada de like.
Imediatamente começou a repercussão (e continuou com efeito bola de neve, como normalmente acontece com raiva on-line): os críticos acharam que ela estivesse fingindo, disseram que ela ela era hipócrita por usar o mesmo meio que a deixava infeliz para espalhar essa mensagem, que ela ainda estava em busca de atenção mesmo enquanto reclamava de como o olhar alheio a deixava infeliz. Mas o que falta em todo esse cinismo ao redor da história dela é empatia: Essena tem apenas 18 anos. Ela ainda está tentando entender as coisas. E em 2015, adolescentes, pelo menos aqueles que entram na arena das redes sociais, têm que descobrir tudo em público. A crítica sobre Essena está deslocada porque ela não é o problema; ela é uma vítima do problema.
É importante que reconheçamos esse aspecto das selfies para que possamos lutar contra ele (e celebrar aquelas que, como a Essena, estão caminhando na direção disso, não importa o quão trôpego e inexperiente o seu protesto possa ser), mas também é importante não deixar esse caso específico representar o todo. Sim, existem aqueles que vão querer explorar a sua selfie e usá-la para os seus próprios ganhos, existem bullies e perseguidores que fazem as vidas de algumas mulheres (e homens) que tiram selfies insuportável. Existem aqueles que ficam presos no vórtex da fama e do dinheiro, que vendem o direito sobre o seu rosto e depois se sentem profundamente alienados dos seus próprios sorrisos. Existem aqueles que manipulam selfies de pessoas inocentes para pegadinhas cruéis da mídia — semana passada, no Canadá, um homem Sikh teve que se defender do ódio viral depois que alguém editou a sua selfie adicionando um colete suicida e um Alcorão para sugerir que ele estivesse envolvido nos ataques de Paris. Tem aqueles que pegam selfies de nudes luxuriosos e selfies de bundas e as usam para humilhar e envergonhar as mulheres por celebrarem os prazeres da carne. Essas são ameaças reais, perigos reais.
Mas esses medos são exagerados — o eterno medo de ser trollado, de se perguntar o que aconteceu com as nossas meninas adolescentes, a preocupação de que estamos todos jogando nudes demais em um estômago voraz —, tudo isso anula uma conversa bem mais revolucionaria sobre as selfies, sobre o que elas podem fazer por nós.
* * *
Tirar selfies é geralmente descrito pelos seus depreciadores em termos de vulgaridade: exagerado, muitas vezes voluptuoso, sensual demais, muita boca, muito corpo. Aqueles que estão profundamente em contato com os seus corpos sempre são chamados de obscenos. Como muitos insultos, essas farpas surgem da insegurança: muitas pessoas morrem de medo delas mesmas! Da sua carne, de cada partezinha, de como elas podem ser vistas como insuficientes. E as pessoas que têm mais medo de serem examinadas são aquelas no controle, que se mantêm no poder graças às estruturas sociais e hierárquicas que não eram realmente questionadas até recentemente (aquelas que, digamos, preferem homens brancos a outras pessoas). Esses homens e mulheres poderosos têm tanto medo que se alguém os olhar de perto e dissecar o motivo pelo qual eles estão no controle que eles poderiam virar pó. Então, eles desencorajam qualquer pessoa a olhar para qualquer outra pessoa — e até para elas mesmas — com intensidade ou ternura.
É por isso que os cavaleiros falam de paus de selfie como se fossem armas do solipsismo e usam a palavra “narcisismo” esperando que invoque repulsa suficiente para esmagar o exército de selfies que vem como uma avalanche diariamente nos seus feeds. Seguramente ninguém quer ser um narcisista, eles dizem, ninguém quer mergulhar no próprio reflexo e morrer afogado. Mas narcisismo é uma acusação frágil. Ela não basta no tribunal das selfies. Narciso, Ovídio escreveu em versos, ficou encantado com o próprio reflexo, formando um looping fechado e retroalimentado com ele mesmo. Ele amava apenas a ele mesmo. Ele desejava apenas a ele mesmo.
Oh, eu desejo poder abandonar meu próprio corpo! Súplica estranha para um amante, eu desejo que o que eu amo esteja distante de mim.
Em nenhum momento Narciso tentou compartilhar o seu amor com outra pessoa, conversar com as ninfas sobre ele, ver qual das musas poderia também se deleitar com a sua face de querubim. No lugar disso, ele mergulhou cada vez mais fundo na sua apatia e sufocou até a morte por não conseguir desviar o olhar.
Selfies, por outro lado, são exatamente sobre desviar o olhar. Elas não são um looping fechado. Elas são uma linguagem, nova e vibrante. Selfies nunca existem no vácuo. Uma vez que elas saem para o mundo, elas têm aventuras, elas passeiam e fazem amigos. Elas nascem das ondas, troncos flutuantes no rio digital: milhões de rostos ancorando em várias margens, lançando vários navios. Elas viajam na frente, sondando novas comunidades, e às vezes trazem de volta histórias. Nossas selfies são versões de nós mesmos, sem peso, com asas. Os homens e mulheres que criam esses riachos da sua própria imagem fazem isso para confirmar a existência dos seus corpos no espaço e, depois, para deixar esses corpos voarem — jornadas em direção às nuvens, alcançando uma unidade com o todo. Esse talvez seja o jeito mais generoso de dizer que colocar a sua cara estúpida por toda a internet possa ser um ato altruísta — e desafiadoramente não narcisista.
Aqueles que veem selfies como o fim dos tempos estão focando nos nas exceções; nos atores ruins. As pessoas que acidentalmente caem dentro da cachoeira e se afogam na procura da foto perfeita. Os jovens que se viciam no feedback digital e começam a precisar de coraçõezinhos para levantar da cama pela manhã. As mães e pais que fazem selfies quando deveriam estar cuidando dos seus bebês; os solitários inquietos que usam as suas selfies para espalhar ódio (se esse ódio se transformar em violência, a culpa com certeza cai sobre as selfies). Mas esse tipo de delinquente sempre existiu: os adolescentes que não prestam atenção nas aulas, os caras que cochilam durante eventos culturais, os trolls que preferem insultos à compaixão. Sempre existirão turistas que furam as filas de um jeito desagradável, pessoas que colocam as suas necessidades na frente das necessidades dos outros, gente que olha fixamente para incêndios e funerais: esses não são problemas sociais criados pelas selfies ou pelos seus acessórios.
O que os críticos não fazem é focar em uma maneira de decodificar a linguagem das selfies quando elas estão sendo usadas corretamente: o que as pessoas nas selfies estão tentando fazer com os seus retratos, qual a grande mensagem que a prática de se autorrepresentar traz no fim das contas. Quando uma jovem mulher se fotografa sozinha, em um museu, aqueles que não fazem selfies vão torcer o nariz, pensando que ela está ignorando a arte ao seu redor. Eles vão se perguntar por que ela não consegue parar um pouco e respirar a cultura sem precisar da segurança do seu celular. Mas talvez, só talvez, essa jovem seja alguém que não se sente bem-vinda naquele museu, que vê uma instituição fria e estéril reforçando uma linguagem visual que nem sempre inclui rostos que parecem com o dela. Talvez seja importante finalmente ver a si mesma ali, no mesmo enquadramento que alguma obra canônica. Talvez ela esteja deliberadamente se incluindo no contexto da arte e depois colocando as outras pessoas que acompanham o seu feed também no contexto da arte. Talvez ela esteja adicionando camadas e contexto ao mundo, e não achatando a própria experiência.
Aqueles que não conseguem ver isso, que se recusam a ver isso, ainda não são fluentes na linguagem visual dela. Se eles quiserem se comunicar com ela, eles vão ter que aprender.
Aqui está o segredo: Nada desestabiliza mais o poder do que um indivíduo que sabe seu próprio valor, e a campanha contra selfies é, em última análise, uma guerra contra a popularização da autoestima. O que os que odeiam selfies temem, lá no fundo, é um crescente exército de caras que eles não conseguem monitorar, um exército que não precisa de aprovação deles para marchar em frente. Eles têm medo dos jovens, dos que têm facilidade com tecnologia, dos conectados. Eles temem uma comunidade que eles acham que os exclui. Da mesma forma que Henry queria silenciar e apagar Clover, esses odiadores de selfies querem silenciar e apagar os rostos que eles não compreendem. É simples assim. Qualquer um que odeie selfies abertamente, está provavelmente em uma posição de privilégio, de onde nunca se sentiu invisível. Eles não conseguem perceber o valor que essa nova maneira de enxergar pode trazer para muitas vidas.
***
História escrita por Rachel Syme, editada por Mark Lotto e revisada por Rachel Glickhouse. Gifs animados e ilustrações por Alex Thebez e Marisa Gertz.
Traduzida para o português por Filipe Rossetti, revisada por Luís Cunha e editada por Caroline Barrueco.
Postada originalmente em Medium, e publicada em Noosfera com autorização da autora.


